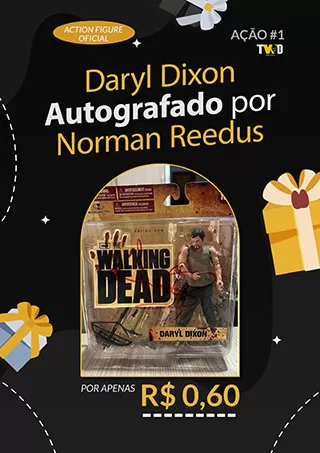Walking Dead Brasil
Crítica de Fábio M. Barreto
por Fábio M. Barreto, de Los Angeles

A pergunta do momento é: “como manter o ritmo e a novidade em uma série semanal sobre zumbis?”. Ninguém sabe a resposta mais efetiva, mas é inegável reconhecer que a equipe criativa de The Walking Dead, liderada por Frank Darabont, está no caminho certo. O piloto foi um tiro certeiro, especialmente com sua exibição brasileira no Dia de Finados que, mesmo com os cortes desnecessários promovidos pelo CanalFox, deu resultado positivo na audiência brasileira que acompanhou pela TV [em vez do download ilegal] e fez barulho indesejado, mas, falou – e muito – sobre a série. Desde o último episódio de Lost não se debatia tanto uma série em exibição quanto The Walking Dead. E há uma razão muito boa: zumbis na TV, toda semana. Historicamente, ótimos episódios piloto não garantem uma boa série, logo, ficar apreensivo era compreensivo, especialmente depois das frustrações com FlashForward e The Event, que prometeram demais e entregaram de menos. A reposta veio no último domingo, com o segundo episódio mantendo o ritmo do piloto, assustando como o piloto e causando a mesma tensão do piloto. Há salvação na TV e ela está nas mãos desses mortos-vivos e o pequeno grupo de sobreviventes do apocalipse. E dá-lhe pesadelos.
Além de aparente fenômeno popular, The Walking Dead carrega uma responsabilidade gigantesca. Zumbis e grande público nunca se deram bem. George Romero sempre foi cult e nem mesmo Todo Mundo Quase Morto conseguiu aproximar o gênero da massa, repelida imediatamente por dois elementos: repúdio e descrédito. Afinal, zumbis são bobos, chatos e feios. É a verdadeira festa estranha com gente esquisita, que arregimentou seguidores ao longo das últimas décadas, mas nunca de forma tão descarada, como se existisse uma convenção social informal na qual quem gostava ficava quieto, enquanto quem tem nojo fazia de conta que não existia. Bem, esse cenário acabou. De vez.
Se a trajetória de sucesso de Battlestar Galactica reintroduziu a possibilidade de seriedade na ficção científica televisiva [que defendo nunca ter deixado de existir com a longa empreitada de Stargate] de acordo com a crítica norte-americana, The Walking Dead rompe essa convenção de forma perturbadoramente acertada, corajosa e definitiva. Acertada por ter escolhido uma boa fonte, na HQ de Robert Kirkman e Tony Moore; corajosa por não diminuir a seriedade e o visual do ambiente povoado por zumbis; e definitiva por iniciar a exploração desse gênero com uma qualidade técnica tão alta, que qualquer canal vai pensar umas vinte vezes antes de tentar imitar o formato. Claro, desde que encontrem coragem suficiente para encarar o assunto, afinal, um canal aberto certamente encontraria oposição religiosa imediata e, especialmente nos Estados Unidos, aquele bando de desocupados politicamente corretos cairia matando. É o preço pela vanguarda. E ela veio tarde.
Abordar não o fim do mundo, mas o fim da sociedade moderna parece ser tabu na TV gringa. Jericho tentou e dançou feio. Aliás, conversei com um dos criadores da série, Jonathan E. Steinberg, outro dia, e ele disse que ainda sonha com um filme e já tem um roteiro de trabalho, mas nenhum canal parece interessado. O cinema pode fazer o que bem entende, pois ainda está “protegido” pela censura por faixa etária, mas quando a TV pensa no caso levanta todos os alertas possíveis, como clichê, bobagem de FC retrógada, insegurança dos roteiristas e, acima de tudo, medo, muito medo, dos executivos dos canais, cada vez mais dependentes da TV formuláica e previsível que nos brinda com obras de arte descartáveis como Glee e Gossip Girl.
Quando não há esperança
“Espectadores querem se sentir seguros; protegidos”, disse Shane Brenan, produtor de NCIS e NCIS: Los Angeles, com exclusividade ao SOS Hollywood. Ele tem razão. A TV é boa para fazer isso, garantir segurança e dar tudo aquilo que a vida real é incapaz de entregar atualmente. “É nisso que a maioria das séries aposta atualmente, pois é isso que tem funcionado há anos”. Heróis, policiais, investigadores, super médicos e tantos outros personagens já arquetípicos povoam os roteiros previsíveis de Hollywood e, em certo ponto, o mesmo acontece com The Walking Dead, que aposta em clichês do gênero. Mas, essencialmente, a série de Frank Darabont é incômoda, não entrega nenhuma perspectiva de tempos melhores e cada nova cena é tão perigosa quanto a anterior. A bolha está estourada e ninguém está a salvo.
Essa dinâmica é providencial, pois permite a The Walking Dead que seu nível de tensão se mantenha constante e atenua a presença das cartas marcadas como o sobrevivente acordando após o Apocalipse, o grupo de sobreviventes contando os dias até serem descobertos pelos mortos-vivos, as cidades evacuadas e tomadas por zumbis e aquela eterna sensação de que cada esquina estará repleta de monstros. São as regras do jogo. O modo como são apresentadas define o tipo de produto a ser consumido e nesse caso, trata-se de algo sério, cru e, pelo menos até o momento, nada humorado. Sobra medo e angústia nessa versão destruída dos Estados Unidos; não há explicações sobre o levante dos mortos; há apenas a certeza de que a sobrevivência depende da criação de novas regras. Mas restam dúvidas sobre a capacidade dos humanos em superar preconceitos e seus próprios demônios para vislumbrar essa nova realidade.
Essa é a estrada de tijolos amarelos traçada pelo estilo de Darabont, apostando pesado na construção de personagens que, mesmo batidos, precisa ser relevante para dar algo mais que “gente matando zumbis” ao espectador, e também na ampliação do universo onde os sobreviventes estão inseridos para, eventualmente, abordar temas mais amplos. No primeiro episódio viu-se um drama na cidade pequena, algo intimista e extremamente triste, com um homem conhecendo os limites do amor mesmo depois de uma tragédia familiar; no segundo, a cidade grande entrou em cena e com ela as diferenças sociais tão latentes na Atlanta pré-Apocalipse quanto em sua versão mortal. A formação do grupo fixo de sobreviventes vai redefinir dinâmicas familiares, assim como traçar as novas regras de sobrevivência. “Não mate os vivos”, será o mandamento máximo. Um mantra esperançoso contra um cenário desolado e desprovido de futuro, e severamente afetado pelo hype de internet. Entretanto, sua qualidade supera o boca a boca e há méritos em The Walking Dead
cia no programa e isso basta.
Discutir a Humanidade é óbvio, mas propor respostas sociais a partir da quebra da sociedade é tarefa complicada. Nesse aspecto, a ficção pode ser mais incômoda que um bando de mortos-vivos vagueando pelas ruas. As escolhas de The Walking Dead precisam ser baseadas no reflexo da natureza humana, em suas possíveis reações num ambiente hostil e na improvável migração da Humanidade de Raça Dominante para Minoria Indefesa e em Extinção. Bebendo pesado nas regras de Romero e pincelando os mortos que matam de Matheson, esse programa difere do fim do mundo proposto por Cormac McCarthy, que, literalmente, matou o planeta em A Estrada, ou do fim social provocado pelo holocausto nuclear visto no recente O Livro de Eli, com um cenário catastrófico armado de forma infernal para a vida em si. O cheiro da vida atrai os mortos em sua fome insaciável. E é essa dinâmica que incomoda, sem afastar o público da série. Sem a perspectiva de conforto, o que resta é o contexto ideal para avaliarmos o cerne da sociedade, quem somos quando as máscaras caem, quando os paradigmas mudam e, acima de tudo, quando deuses caem.